
Quem tenta minimizar a importância da extinção do Ministério do Trabalho, confirmada pelo ministro Onyx Lorenzoni, como uma decisão de natureza simbólica, só precisa lembrar-se de uma verdade elementar das sociedades humanas– os símbolos verdadeiros nunca são apenas símbolos. Neste caso, a novidade se traduz em moeda sonante. Com o fim do Ministério, os fundos do FGTS e do FAT passam aos cuidados do guru econômico Paulo Guedes, guardião do capital financeiro no governo Bolsonaro.
A medida, de caráter nitidamente anti-democrática e anti-social, está em linha com a estratégia destinada a silenciar os trabalhadores e fechar todos os canais organizados que possam ser uteis ao avanço de suas reivindicações nesta segunda década do século XXI. Faz parte de um processo brutal de reversão histórica iniciado pela aliança que manda no país — mandar é diferente de governar, vamos lembrar — desde o golpe de 2016, aberto pela reforma trabalhista, pelo projeto de reforma da Previdência, seguido pelo desmantelamento das entidades sindicais e o encarceramento de Luiz Inácio Lula da Silva.
Na atual contra-revolução institucional, o que se quer é reconstruir uma relação de forças selvagem, permanentemente voltada para a exploração econômica e submissão política das camadas subalternas, agora desprovidas de qualquer anteparo destinado a confrontar as forças gigantescas interessadas apenas no seu suor, suas lágrimas e, às vezes, em seu sangue.
É sintomático que a dissolução e esquartejamento do Ministério do Trabalho em três partes, providência sob medida para apagar toda lembrança e impedir atuação efetiva, esteja sendo processado no mesmo momento histórico, pelo mesmo o grupo de trabalho, que prepara outra mudança institucional de vulto. A entrega do Banco Central para ser gerido e administrado, em regime de pacote fechado, pelo capital financeiro, que se tornará senhor absoluto dos juros que fazem a economia crescer e/ou recuar.
Em 26 de novembro de 1930, quando Getúlio Vargas assinou o decreto que criou o Ministério do Trabalho e da Industria e Comércio, a historia do país atravessou uma linha divisória, um antes e depois em relação ao mundo escravocrata. Formalmente abolido em 1888, este universo se reproduzia pela República Velha, no qual a questão social permanecia como “caso de polícia”. Em 1930, o país fazia um esforço lúcido para encontrar seu lugar num mundo que, como hoje, se dividia entre potências em ascensão ou decadência.
O Ministério era o alicerce de um pacote de inclusão que trouxe o reconhecimento dos sindicatos, preparou várias leis trabalhistas e mais tarde, num processo lento, com avanços, sabotagens e recuos, incluiu uma justiça destinada a tentar disciplinar um empresariado que nunca abandonou completamente as vantagens comparativas de senzalas que nunca foram completamente extintas.
A diferença crucial daquele momento em relação ao tempo de Bolsonaro-Temer é que nem o país nem o governo pretendiam entregar o presente e o futuro de seus filhos a um patrão estrangeiro, como ocorre no curso alucinógeno de nossos dias, com poucos paralelos na existência humana.
Há quase 90 anos a criação do Ministério do Trabalho foi uma das primeiras providências após a queda da República Velha. Ajudou a deixar a claro que trabalhadores e trabalhadoras passavam a ser reconhecidos como uma força indispensável a vida social, que precisavam ser acolhidos e ouvidos pelo sistema político. Eram parte de uma nação em busca de sua soberania.
Não há dúvida de que essa iniciativa civilizadora ajuda a explicar porque, num discurso em 1936, o presidente dos EUA Franklin Roosevelt definiu Getúlio como uma “das pessoas que inventaram o New Deal”. Empenhado em derrotar o inferno financeiro de 1929, que já projetava a sombra do nazi-fascismo na Europa inteira, o keynesiano Roosevelt apostava — como Getúlio — na intervenção do estado a partir de amplos programas de investimentos públicos para estimular o crescimento econômico e derrotar o inferno financeiro.
Essa visão incluía a proteção e fortalecimento dos sindicatos. Antes alvejados pela ação de quadrilhas de gangsters a serviço do patronato, passaram a ser vistos como instrumentos úteis para o fortalecimento de uma economia saudável. Também permitia a elaboração de leis trabalhistas e programas sociais voltados para a recuperação da massa de excluídos e miseráveis que décadas mais tarde seriam retratados em romances e filmes sobre a Grande Depressão.
No Brasil de 2018, a destruição do Ministério do Trabalho e aquilo que ele representa é uma das metas indispensáveis do projeto de gestão econômica do guru Paulo Guedes, adversário ideológico e assumido de toda e qualquer iniciativa que possa ser identificada — mesmo de longe — com a social-democracia.
Na história econômica que se inicia no final da Segunda Guerra Mundial, os sistemas de bem-estar social foram construídos como uma resposta institucional às crises cada vez mais profundas do capitalismo que, ontem como hoje, costumam abrir caminho ao fascismo. Nas palavras do cientista político Adam Przeworski, fez-se um pacto de mutua sobrevivência mútua. Enquanto as lideranças operárias abriam mão de um programa radical de eliminação da propriedade privada, o patronato assegurava o acesso dos trabalhadores a benefícios e direitos impensáveis nas décadas anteriores. Com os limites e horizontes definidos por um país de renda mídia, uma história de soberania que não se completou, não há dúvida que o Ministério do Trabalho era parte desse processo.
Também não é difícil reconhecer os benefícios que produziu. Principal luta de trabalhadores das primeiras décadas do século passado, a greve geral de 1917 deixou o registro de um sistema político falido, justamente pela incapacidade de encontrar um local civilizado para as camadas debaixo.
Incapazes de uma negociação civilizada com milhares de empregados, os grandes empresários da época foram obrigados a convocar os donos dos grandes jornais de São Paulo para sentar-se à mesa com lideranças operárias e negociar reivindicações que permitiram o fim de uma paralisação que já assumia o caráter de uma greve insurrecional.
Derrotados nas tentativas de dobrar a mobilização operária pela violência, na etapa seguinte os governantes colocaram a polícia para perseguir e expulsar as lideranças mais destacadas, em maioria imigrantes recém-chegados da Europa. Numa ação de vingança e extermínio, lideres operários foram sequestrados, executados e enterrados clandestinamente no cemitério paulistano do Aracá, escreve José Luiz del Royo, no livro “A greve de 1917”.
Alguma dúvida, 101 anos depois?
Por Paulo Moreira Leite, para o Jornalistas pela Democracia
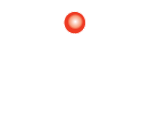



Seja o primeiro a comentar